Baleia chega ao segundo disco com abordagem ainda mais densa e complexa
Com oito faixas, Atlas ganha vida nesta sexta, 18, e dá sucessão a Quebra Azul (2013)
LUCAS BRÊDA

Por Lucas Brêda
O Rio de Janeiro é historicamente um dos maiores berços para artistas que se identificam com temas praianos, que citam o mar direta ou indiretamente nas letras, títulos ou melodias. Formado em 2011, o sexteto carioca Baleia carrega no nome a referência a uma criatura robusta que, apesar de marítima, é antagônica à leveza da brisa da orla. Desde o álbum de estreia, Quebra Azul (2013), esta é a abordagem do grupo: músicas profundas, grandiosas e harmonicamente complexas.
Para Atlas, segundo disco da carreira, o Baleia deixou de lado canções de aspectos mais triviais, como “Casa” e “Jiraiya” (de Quebra Azul), se embrenhando na densidade sonora. “Esse disco segue uma linha intensa, porque foi como nos sentimos melhor representados”, explica Gabriel Vaz, vocalista do grupo. “O lugar mais autêntico a que podemos ir é esse mais denso, que começamos a pincelar com [as faixas de Quebra Azul] ‘Breu’ e ‘Motim’.”
O caminho seguido pelo Baleia é resultado também de um processo de gravação durante o qual a banda ficou dez dias isolada em um estúdio na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. “Era tomar café da manhã, gravar, almoçar, gravar, jantar, gravar”, conta Vaz, notando que parte das composições só foi finalizada no estúdio. Sofia Vaz, irmã de Gabriel e também vocalista, acrescenta: “Enquanto uma pessoa estava gravando, nós ficávamos lá fora pensando em letras e rabiscando ideias. Foi confuso, tudo acontecendo ao mesmo tempo”.
“Estava todo mundo no espírito, passando o dia juntos”, continua Sofia. “É diferente de quando você está no estúdio – existe uma comunhão maior que ajuda no processo. O primeiro disco foi [feito em um processo] fragmentado, então estávamos buscando uma experiência diferente, para chegar a um resultado diferente também”. Vaz emenda: “Fazíamos o nosso próprio tempo, cada um demorava o que precisasse. Resolvemos fazer esse álbum de uma maneira bem intensa.”

Tematicamente, Atlas explora de maneira nebulosa os problemas da vida contemporânea. “Não quero que vire uma ‘conversa de bar’, mas a gente sente que o universo do álbum gira muito em torno da vida no mundo com esse excesso de informação muito opressora”, diz Vaz, tentando esclarecer a motivação das letras. “Um mundo onde os modelos estão acabando, o certo e o errado não são mais tão bem delimitados. A sensação é de que o eu-lírico de todas as músicas tem que levar essa maldição de carregar o mundo inteiro no ombro.”
Para Sofia, o trabalho trata de “uma quebra de modelo de vida”. “Antigamente, você seguia modelos, tinha uma carreira, instituições e agora – por conta de todas as revoluções alcançadas – você tem acesso a tudo e tem que decidir se aquilo é certo ou errado. Você está carregando as escolhas e o peso que elas representam sozinho.”
Além de mais intrincado e detalhado, Atlas abre espaço para uma experimentação maior, tanto nos vocais e arranjos quanto na produção de Bruno Giorgi. “Tem bandas que fazem isso de o disco ser do jeito como será ao vivo. Nós acabamos sendo meio megalomaníacos”, ri Sofia sobre a complexidade do álbum. Quando falaram à Rolling Stone Brasil, Sofia e Vaz já estavam – com o resto do grupo – no árduo processo de transpor as faixas de Atlas para os shows, antes de saírem em turnê (em 2015, eles tocaram em festivais como Lollapalooza e Vaca Amarela).
Para o sexteto, completado por Cairê Rego, David Rosenblit, Felipe Ventura e João Pessanha, “reduzir” as canções para os palcos é fichinha perto do processo de dar nome a elas. “Tentamos escapar dessa de fazer música com uma palavra”, admite Gabriel (de todas as faixas já lançadas por eles, apenas “Furo 2” e “Duplo-Andantes” têm mais de uma palavra no título), antes de brincar: “Essa banda é meio difícil. Discutimos tudo e tentamos achar algo que represente todo mundo – e isso é um problema.”





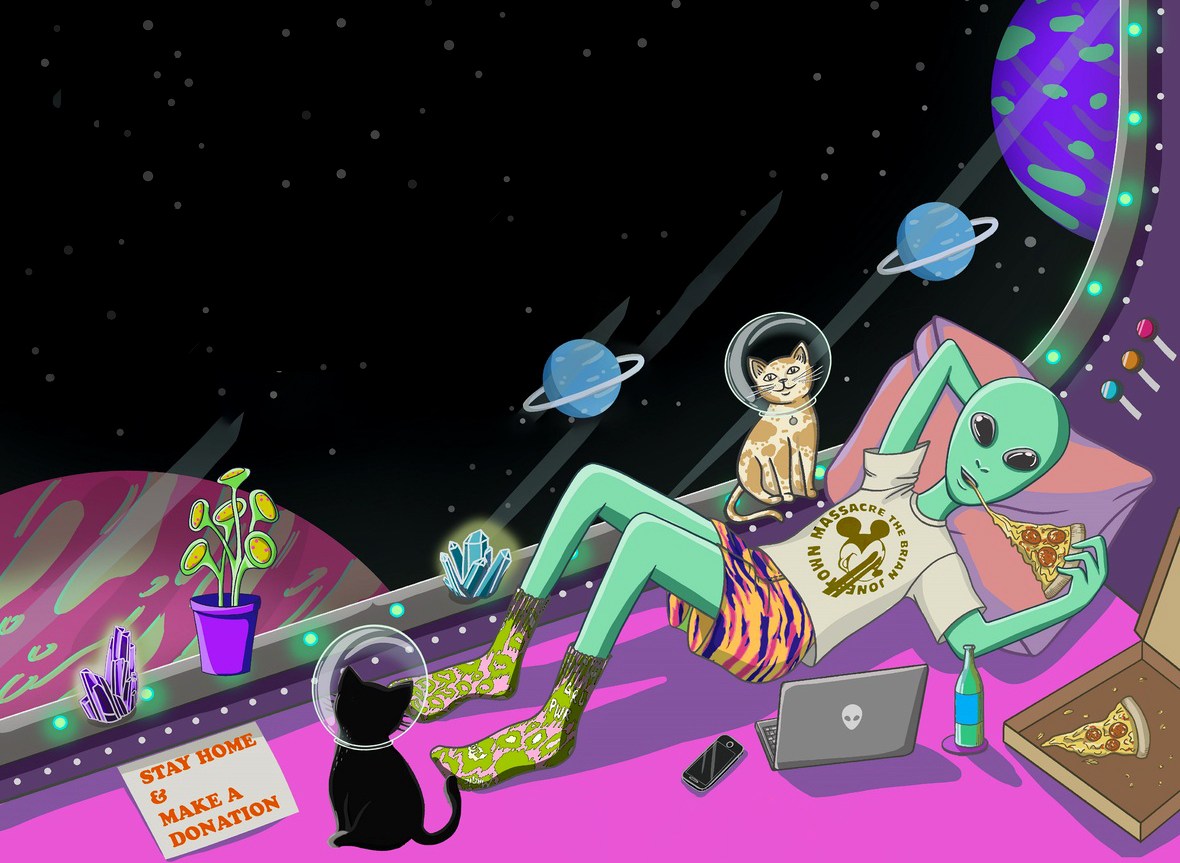
![Supla regrava ‘Jealous Guy’, clássico solo de John Lennon: ‘Sem compromisso’ [VÍDEO]](https://rollingstone.com.br/wp-content/uploads/supla_jelous_guy_cover_john_lennon.jpg)
![Emicida lança Passarinhos Remix com banda chilena Moral Distraída – e a quarentena fica mais leve [VÍDEO]](https://rollingstone.com.br/wp-content/uploads/emicida_e_moral_moral_valpalavecino-29_1.jpg)