Paulinho da Viola celebra 50 anos de carreira com reedição da discografia
Aos 72 anos e sem pressa, o músico se consagra no panteão da música brasileira e lança portal que condensa a trajetória
MAURO FERREIRA
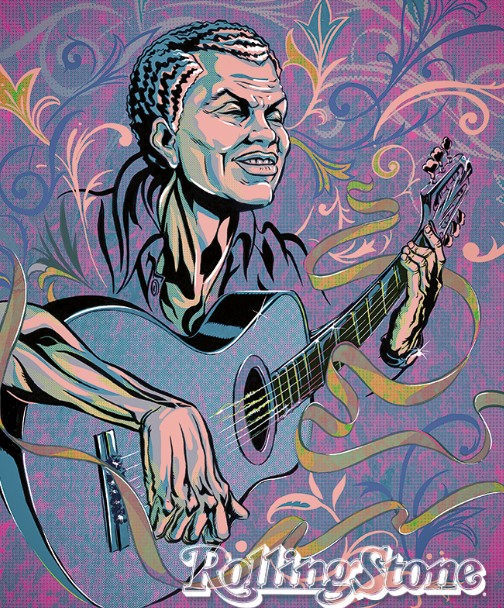
Paulinho da Viola tem ficado incomodado com a quantidade de automóveis que vê nas ruas do Rio de Janeiro. “É um negócio assustador. As fábricas não param de fazer carros. Tem muito carro e pouco estacionamento”, contabiliza, sem alterar o tom manso da fala. Habitualmente recluso na casa onde mora, no Itanhangá, bairro elitizado de sua cidade natal, o artista carioca tem diminuído as idas ao centro do Rio. Houve tempos em que ia praticamente toda semana ao Saara, zona de comércio popular que frequentava assiduamente desde a adolescência. Hoje sai bem menos, quase se limitando a cumprir a atribulada agenda de compromissos relativos à celebração de seus 50 anos de carreira. Quando dirige seu carro, é à noite. “Não tenho obrigação de sair de casa. É fácil você se acomodar num lugar sossegado”, pondera, se referindo à bucólica residência que atravessou o ano de 2014 em obras.
Aos 72 anos, completados em 12 de novembro, Paulo Cesar Baptista de Faria vive no seu próprio tempo. “Não posso mais correr atrás da bola como antes. Mas deixo a bola passar. Alguém vai correr por mim”, descreve. “Sempre fui uma pessoa moderada, comedida. Não tenho vício em nada. No entanto, de vez em quando eu fumo um charutinho, tomo uma cachacinha. É o meu jeito.”
Do jeito e no ritmo dele, sem correria, Paulinho da Viola abraça o lugar que tem no olimpo dos panteões da música brasileira. O passo mais decisivo é a inauguração, prevista para o começo de 2015, do portal interativo que condensa informações sobre as cinco décadas de atividade profissional. Trajetória que tem como pontos de partida, na cronologia do artista, a ida dele, em 1964, ao restaurante Zicartola – local de encontro dos bambas do Rio naquela época de repressão política – e a composição das duas primeiras músicas da carreira, “Valsa da Solidão” e “Duvide-o-Dó”, criadas sobre versos do poeta e compositor Hermínio Bello de Carvalho.
No site, a seção “Meu Acervo” vai concentrar áudios, vídeos, fotos e manuscritos que ajudam a contar a história da carreira desse sambista criado no bairro carioca de Botafogo, entre os jogos de futebol nos campos improvisados e as lições de choro ministradas cotidiana e informalmente pelo pai dele, Benedicto Cesar Ramos de Faria, violonista integrante da primeira formação do grupo de choro Época de Ouro. Por causa dessa familiaridade com o gênero, Paulinho conviveu com ícones como Pixinguinha e Jacob do Bandolim, que acabaram se tornando referência para a obra do músico.
O futebol continua em campo na vida do vascaíno. “Você acha que a gente termina essa conversa até às 19h15?”, pergunta Paulinho, à mesa em que almoçava às 16h de uma terça-feira nublada. É que, como o cantor explicou logo depois, no início da noite o Vasco iria jogar contra o América pela série B do Campeonato Brasileiro. Paulinho queria acompanhar a partida, vencida pelo América por 2×0. Sim, a conversa terminou pouco antes do horário sugerido pelo entrevistado. Mas, sem pressa e sem pressão, Paulinho fez questão de me conduzir à oficina de marcenaria que mantém em atividade no amplo quintal da casa dele. Lá, mostrou com visível orgulho o bandolim que restaura pacientemente, reconstruindo em minúcias o acabamento diluído pelo tempo.
O ofício informal de marceneiro ocupa os dias e a mente de Paulinho. “A marcenaria tem seu fascínio. Não sou o único que, sem ser por exercício profissional, se dedica a um trabalho artesanal. Gosto de ficar no meu canto, consertando alguma coisa”, conta o artista, que aprendeu os primeiros macetes da marcenaria com um português já falecido, Seu Abílio, que fazia móveis para o pai do sambista. “Seu Abílio percebeu meu interesse pela marcenaria e me ensinou muitas coisas. E isso se tornou um hábito. Um amigo artista plástico brinca comigo dizendo: ‘Você é muito construtivo’. Sempre gostei da textura das cores, dos vernizes, das madeiras. As pessoas jogam fora madeira de lei!”, espanta-se, com um misto sereno de indignação e incredulidade.
A cinquentenária obra musical de Paulinho tem a solidez de uma madeira de lei. Samba e choro pautam o repertório da discografia cuja parte mais expressiva, a do produtivo período entre 1968 e 1979, está sendo novamente relançada na caixa Ruas que Sonhei, que sai pela gravadora Universal Music. Atrasada por causa de um já resolvido impasse jurídico com um fotógrafo, o box embala reedições remasterizadas de 12 álbuns emblemáticos, como Foi um Rio Que Passou em Minha Vida (1970), A Dança da Solidão (1972), Nervos de Aço (1973), Memórias Cantando (1976) e Memórias Chorando (1976), lançados originalmente pela Odeon. Foi na gravadora que o sambista “chorão” viveu uma época de ouro, em que se permitia até gravar dois álbuns em um único ano – foi o que fez em 1976 e antes, em 1971, quando lançou dois discos batizados com seu nome artístico.
A caixa é um alento para quem espera há 18 anos por um trabalho de inéditas de Paulinho. Com cerca de 15 novos sambas na manga (o último, “Bloco do Amor”, foi gravado em outubro pela filha do cantor, Beatriz Rabello, em disco previsto para ser lançado em 2015), o compositor garante que a espera pelo sucessor de Bebadosamba (1996) está próxima do fim. Mas não se impõe uma data para a entrada em estúdio. “Essa coisa do disco mudou muito”, afirma. “A gente vive um momento de incertezas. Eu tenho alguns sambas inéditos. Quando vou fazer um disco, começo a mexer, a mudar… mas vou fazer esse disco brevemente. E vou surpreender.”
Paulinho rejeita o carimbo de perfeccionista na arquitetura de sua obra, mas conta que volta e meia detecta problemas quando cantarola algum samba próprio. Outro dia, se deu conta de que faria uma modulação diferente na segunda parte de “Pintou um Bode” se pudesse alterar a gravação feita em 1989 para o disco Eu Canto Samba. Também se surpreendeu quando, ao assobiar o samba “Coração da Gente”, a melodia caminhou instintivamente para outro lado, em rota diversa da seguida na gravação perpetuada no álbum de 1981.
Por mais que o ouvido do dono ainda perceba eventuais falhas na obra, o fino acabamento de seu cancioneiro é nítido para a plateia que vem lotando as casas onde o artista tem apresentado o show da turnê comemorativa dos 50 anos de carreira. Com roteiro maleável, a turnê vai se estender até 2016 e prevê apresentações na Europa e nos Estados Unidos. Há inclusive o projeto – arquitetado pela empresária Marlene Mattos com a mulher e empresária de Paulinho, Lila Rabello – de fazer circular pela França, partindo de Nice, o Trem do Samba, com Paulinho a bordo. O projeto é inspirado no trem que há 19 anos parte da Central do Brasil, no Rio, em 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, com diversos músicos celebrando o ritmo.
O lançamento de CD, DVD e Blu-ray com o registro do show dos 50 anos vai selar o fim da turnê que celebra uma trajetória vitoriosa. “Não tenho do que reclamar. Eu sou de uma geração que não teve as ferramentas que se tem hoje para divulgar o trabalho”, contextualiza Paulinho. “Uma geração que deu grande contribuição à música brasileira, que não trouxe ideias novas, mas trabalhou bem com coisas que já haviam sido feitas antes.” Ele ressalta a importância dos festivais dos anos 1960 para a divulgação da música de nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Milton Nascimento, cantores e compositores também nascidos, como Paulinho, no abençoado ano de 1942. “A figura do compositor-cantor de suas próprias músicas cresceu muito através dos festivais”, reforça.
Projetado em escala nacional na era desses eventos, Paulinho lançou naquelas inflamadas com petições faixas emblemáticas de sua obra, como o samba “Coisas do Mundo, Minha Nega” (1968), apresentado na I Bienal do Samba, e a visionária “Sinal Fechado”, vencedora, em 1969, do Festival da Música Popular Brasileira da Record. “Essa canção trata de algo que já me preocupava na época: a coisa da pressa, de querer falar e não poder”, lembra.
Decorridos 45 anos, as pessoas continuam com pressa, mais ainda do que antigamente. “As pessoas conversam muito através de smartphones. Eu fico assustado”, assume Paulinho. O susto não impede o cantor de eventualmente se conectar às maravilhas contemporâneas da tecnologia. Outro dia, Paulinho exultou a internet ao achar e comprar pela rede um disco de Baianinho, nome artístico de Eládio Gomes dos Santos, cantor que migrou em 1956 de Salvador para o Rio de Janeiro, onde se envolveu com as escolas de samba da cidade. A tradicional Portela é a escola do coração de Paulinho, para a qual ele fez em 1970 a música “Foi um Rio que Passou em Minha Vida”, transformada instantaneamente em hino informal pelos foliões da agremiação de Madureira.
Apesar de educado na escola do samba e do choro, Paulinho ouve também jazz e rock. Em 1968, quando foi pela primeira vez ao Recife, ele descobriu na cidade um disco do pianista e compositor norte-americano de jazz Thelonious Monk. Tudo se transformou após a audição. “Era uma fase de definições. Queria me dedicar à música, mas ainda não sabia se isso iria surtir alguma coisa”, conta. “Nunca tinha ouvido falar de Thelonious. Levei um susto quando ouvi o disco, fiquei fascinado. A partir dele, passei a me interessar mais pelo jazz. Um amigo disse que eu comecei logo pelo mais difícil.”
Por seguir um ritmo particular de levar a vida, Paulinho volta e meia leva sustos. Não ouviu rock na adolescência, mas não passou incólume pelo rastro de luz deixado pelos cometas Bill Haley e Elvis Presley na década de 1950. Os efeitos do filme Ritmo Alucinante ainda estão vivos na memória do sambista. “Quando o rock chegou ao Brasil, em 1956, eu estudava no Largo do Machado [bairro da zona sul do Rio] e soube que vinha por aí um ritmo alucinante. E foi um caos”, afirma. “Eu lembro que o cinema ficou todo quebrado quando passou esse filme. Foi uma revolução! Eu era adolescente e fiquei muito assustado. Ainda mais quando ouvia o pessoal mais velho falar que o rock era música de degenerado. Aí eu comecei a ficar de lado, na reserva. A sensação é a de que eu passei todo esse ano da minha vida sobrando.” Hoje, ele tem sobre a mesa da sala duas cópias da coletânea Elvis Sings the Blues (1989). O cantor adquiriu a primeira em Brasília, ao se impressionar com a capa. “Parece uma pintura”, admira-se, com olhos de artesão.
Contrariando o título do documentário sobre sua vida, Meu Tempo é Hoje (2003), com direção de Izabel Jaguaribe, Paulinho sabe que caminha em passo diverso do da maioria dos moradores da selva das cidades. “Vivo um pouco em outro mundo. Sou um cara do século 19 e não sei o que estou fazendo aqui”, brinca. Mas essa falta de sintonia com a pressa moderna jamais implicou nostalgias exacerbadas dos tempos idos. Nem na vida nem na música. “Os mais velhos costumam se referir a antigamente como algo mais verdadeiro. Mas hoje você tem um número maior de artistas, de pessoas pensando e experimentando com os mais diversos instrumentos, alguns com o uso de instrumentos não convencionais”, ele afirma, enumerando pontos positivos e negativos das mudanças. “Não existem mais escolas, correntes, movimentos. E isso dificulta muito qualquer abordagem. Há coisas, por exemplo, que eu ouço e penso: ‘O que é isso? Isso está me dizendo muito, mas está me incomodando’. De repente, esbarro com algo que me diz: ‘Você está totalmente enganado’. É uma sensação. Mas há outras coisas que são novas para mim que me seduzem mais e que me surpreendem de uma forma positiva. Coisas de
que eu quero me aproximar mais.”
Pelo olhar de Paulinho, que entrou na roda do samba em 1964 por incentivo de ícones como o carioca Zé Kéti, a renovação também passa pelo samba. “O samba está aí. Não se deve descartar o novo. Tem gente com coisas novas no tratamento, no fraseado melódico. Já é outro tempo”, reconhece, sem sair do curso imutável do rio de sua vida.







