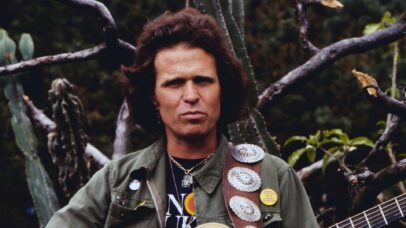Relembrando Amy Winehouse, dez anos depois
Mesmo uma década após a tragédia, ela continua a nos despertar emoções confusas
Pablo Miyazawa
![Vida e morte de uma estrela trágica: Amy Winehouse, 1983 - 2011 [ARQUIVO RS]](https://rollingstone.com.br/wp-content/uploads/amy_capa_sem_edicao.jpg)
Chocados, mas não surpresos, recebemos a notícia da morte de Amy Winehouse na semana do fechamento da edição 59 da Rolling Stone Brasil. Esse sim, era um acontecimento digno de evocar o clichê “parem as máquinas”. Algo semelhante ocorreu dois anos antes, na ocasião da morte de Michael Jackson – naquele 25 de junho de 2009, não compreendemos de pronto a grandiosidade da informação e demoramos a digerir o fato (só no dia seguinte decidimos colocá-lo na capa). Já com a tragédia de Amy, em 23 de julho de 2011, fomos mais ligeiros. Sabíamos que a morte da cantora britânica era assunto digno de capa de Rolling Stone. Em questão de minutos, assim foi decidido (hoje, não consigo lembrar do tema da capa original que foi derrubada).
Não foi apenas uma capa, mas duas: lançamos a edição quinze dias após a data trágica, com um par de imagens frontais diferentes e conteúdo interno idêntico. A primeira, mais convencional, mostra Amy em plano americano, com vestido de bolinhas, luvas de couro e piteira nas mãos, expressão de resting bitch face típica, um misto de indagativa e entediada. A segunda, “de colecionador”, traz um close em preto e branco de seu belo rosto icônico, a boca entreaberta, delineado de gatinho nos olhos, encarando o leitor como uma diva esquecida de outras eras (naturalmente, a capa 2 vendeu mais do que a tradicional). Uma homenagem digna do tamanho de uma estrela que ascendeu rápido demais e partiu tão abruptamente.
A verdade inconveniente é que a Rolling Stone nem sempre foi gentil com Amy Winehouse. Seus vexames públicos não eram exatamente ignorados, mas amplamente divulgados nas páginas da revista desde 2007. As manchetes que acompanhavam as fotos constrangedoras nada tinham de edificantes – e isso se repetia pelos veículos de imprensa do mundo, não apenas os de música, mas também os de fofoca. Seu derretimento público pós-fama era percebido a olhos vistos, e a mídia não fazia muito esforço para mudar a situação. Na verdade, só ajudava a piorá-la.
A primeira grande aparição de Amy na Rolling Stone EUA foi em uma matéria de capa em junho de 2007, escrita por Jenny Eliscu (e reproduzida no mês seguinte na RS Brasil #10), no rastro do sucesso estonteante do segundo álbum, Back to Black, de 2006. O texto dá pistas vagas do caos que estaria por vir: a cantora é mostrada como uma artista genial e sincera, porém comicamente problemática e excessivamente apaixonada pelo então noivo/marido Blake Fielder-Civil.
Em julho do ano seguinte, cinco prêmios Grammy depois, Amy foi perfilada de modo ainda menos favorável, como uma diva quebrada, movida a excessos químicos e oprimida por paparazzi impiedosos. A descrição crua da repórter Claire Hoffman evidencia o sofrimento de uma mulher fragilizada, com pouco espaço para elogios sobre suas habilidades musicais sobrenaturais. Naquela altura, o talento de Amy estava em segundo plano diante do espetáculo trágico que costumava oferecer ao mundo, em noites encharcadas de álcool, drogas e vexames amplamente fotografados. De tão reveladora e dolorida, a reportagem de seis páginas mereceu ilustrar a capa da RS Brasil #24. A próxima vez em que Amy ocupou espaço tão amplo na revista foi justamente na ocasião de sua morte.
É um exercício hipotético sofrido imaginar do que Amy Winehouse seria capaz em 2021. Pensar que uma artista tão talentosa e impactante perdeu a vida aos 27 anos é de uma ironia ridícula, se levarmos em conta que o “Clube dos 27” é uma lenda urbana que só serve para gerar listas na internet. Cantoras importantes como Adele afirmam dever a carreira à Amy. Sua morte por intoxicação alcoólica involuntária, sozinha, pareceu escrita em um roteiro-clichê antecipado por todos, mas que ninguém desejava que acontecesse de fato.
Leve em conta que Amy Winehouse surgiu em um momento de carência de ícones, encaixando-se perfeitamente em uma lacuna vaga (ou mal ocupada): a dos artistas que incorporam a ética rock’n’roll ao pé da letra. Ainda é difícil dissociar sua imagem desleixadamente montada – o penteado beehive, a maquiagem de Cleópatra, vestidos curtos, saltos altos e tatuagens toscas – das fragilidades sinceras de sua alma e corpo. Ela não era apenas uma artista talentosa que sabia utilizar seu instrumento com destreza, mas uma que expunha como poucas suas fragilidades e demônios por meio da música, e também longe do ambiente musical. Para Amy, a separação entre arte pública e vida privada não existia.
Se fosse uma mera figura notável de voz poderosa talvez chamasse menos atenção, mas a personalidade sem freios fazia com que o interesse pelo seu universo ao redor fosse ainda maior, pela mídia e também pelos fãs. Foi uma combinação de interesses que não se via há tempos no mundo da música, e na cultura pop como um todo. Amy foi louvada por reviver com qualidade um estilo musical antigo e sofrido, não só pela maneira como cantava essas dores, mas também como isso se refletia sinceramente em sua vida. É como se vê-la derreter aos poucos também fizesse parte da experiência de apreciar sua obra.
Só que, se foi lembrada em seus últimos anos pelos desleixos e vexames, Amy Winehouse agora parece mais celebrada pela potência de sua arte – sua voz soa impressionante como nunca se revisitada em dezenas de vídeos de shows e nos álbuns e faixas que gravou, e novos fãs não param de surgir, alguns novos demais para terem acompanhado a artista em vida. É interessante cogitar se o interesse por ela seria menor se Amy não fosse como era. Ao mesmo tempo, será que teria se tornado tão importante caso tivesse vivido uma vida mais “discreta”?
Não entrevistei ou conheci Amy Winehouse, mas pude vê-la ao vivo em dois momentos distintos da carreira. A primeira foi em 14 de abril de 2007, estreando no Festival Coachella. Uma das atrações mais prestigiadas do palco secundário Gobi, ela surgiu com sua banda The Dap-Kings ainda com sol forte às 18h, diante de uma plateia amontoada e interessada. Naquele início de auge da fama, não havia a expectativa de vexame e constrangimento que a acompanhou em seus dois últimos anos. Vimos uma estrela tímida, ainda que ciente de suas capacidades e dona de um carisma inabalável. Entre uma faixa e outra, Amy sorria sem graça, exibindo um buraco de dente faltando, esbaforida e reclamando do calor, conversando com a fileira da frente como se cantasse na sala de casa.
Lembro de ter ficado impressionado com sua presença gigante em um palco tão pequeno. Parecia bem mais alta do que seus reais 1,59 m (o tamanco de salto ajudava na impressão). Ao mesmo tempo, ela estava visivelmente deslocada, como se não se conectasse ao clima abafado e à multidão suada que a apreciava em silêncio respeitoso. A impressão era a de que Amy queria que aquilo acabasse logo para que pudesse se esconder. Onze músicas e 45 minutos depois, o show acabou tão repentinamente como começou.
Na época, escrevi: “A musa de “Rehab” […] ganhou o público sem fazer esforço. Acompanhada de uma fileira de músicos competentes, visivelmente nervosa e instigante com shorts jeans e regata branca, Amy provou que sabe realmente cantar. Carisma e charme fizeram o resto”. “Amy é de verdade”, lembro também de pensar na metade do show, mais para o bem do que para o mal.
Menos de quatro anos depois, Amy Winehouse cantou cinco vezes em terras brasileiras. Conferi a última, em 15 de janeiro de 2011, quando foi a atração principal do festival Summer Soul. Nenhum dos 30 mil espectadores poderia imaginar que aquele seria o antepenúltimo show de sua história. Havia a sensação de que a maioria não estava interessada em ver Amy cantar seus sucessos, e sim torcia pela possibilidade de vê-la falhar e desmoronar – algo que realmente aconteceu meses depois em sua derradeira apresentação, em Belgrado.
Ainda que com tropeços e certa desconexão com a plateia, sua performance em São Paulo foi correta, contrariando expectativas mais fatalistas. Nada de grave ou muito memorável aconteceu, mas o que vi à distância no palco enorme da Arena Anhembi me pareceu uma versão discreta e nublada daquela Amy tímida e ensolarada de 2007. Após o show, a multidão se arrastou para a rua em um misto de decepção e conforto. Foi como ter a certeza de que se presenciaria um desastre, e respirar aliviado de não tê-lo visto acontecer.
Amy Winehouse morreu há dez anos deixando um enorme vazio na música. No espetáculo mórbido que antecedeu sua morte, fomos espectadores conscientes e culpados. O que nos resta agora é apreciar a eternidade de sua voz.
Pablo Miyazawa foi editor-chefe da Rolling Stone Brasil de 2010 a 2014.