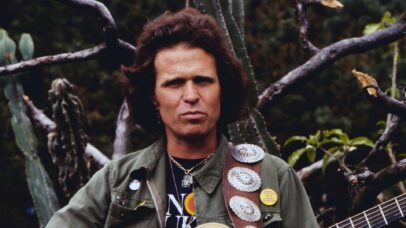40 anos da Força – Star Wars quatro décadas depois
O primeiro filme da franquia estreou no dia 25 de maio de 1977, rachando o cinema e a cultura popular
Paulo Cavalcanti

A década de 1960 foi um período de otimismo, mas o panorama de esperança cedeu a um choque de realidade na década seguinte. Os anos 1970 foram pautados por ansiedade, angústia, cinismo, feiura e desespero. Havia guerras na Ásia e África, crise do petróleo, escalada do terrorismo e caos urbano. Pelo menos o mal-estar que existia dentro da sociedade aguçou a criatividade artística na música, teatro e cinema.
Na tela grande, as sementes para a mudança foram lançadas através de Sem Destino (Easy Rider), dirigido e estrelado por Dennis Hopper e Peter Fonda, que chegou às telas em julho de 1969. Na época, ele foi chamado de “o filminho que matou os filmões”. Não foi exatamente o que aconteceu, mas o impacto do longa underground sobre dois motociclistas rebeldes mudou a indústria. Sem Destino deu o tom ao cinema dos anos 1970, que revelou umas das mais notáveis gerações de realizadores de todos os tempos.
O movimento, chamado de Nova Hollywood, rivalizou com a chamada “era de ouro do cinema”, ocorrida nos anos 1940. Antes de esses novatos surgirem, os diretores eram contadores de história autodidatas, que refinavam o ofício dentro dos próprios estúdios. Já iconoclastas como Martin Scorsese, George Lucas, Steven Spielberg, Hal Ashby, Bob Rafelson, William Friedkin, Brian de Palma, Michael Cimino, Peter Bogdanovich, Robert Altman, Francis Ford Coppola e Paul Schrader, dentre outros, eram filhos da contracultura, da cultura pop e dos quadrinhos, e se especializaram em faculdades como a UCLA. Mesmo depois, atrelados aos grandes estúdios, eles mantinham vivo o espírito independente.
No cinema de autor dos anos 1970, a influência de realizadores europeus e asiáticos tomou conta de Hollywood. Formato, conteúdo e linguagem eram desafiados e virados de cabeça para baixo em obras poderosas como Mash, Patton – Rebelde ou Herói?, Cada um Vive como Quer, Ânsia de Amar, Cabaret, O Poderoso Chefão, O Exorcista, Chinatown, A Vida de Brian, Um Dia de Cão, Taxi Driver, Caminhos Perigosos, A Última Sessão de Cinema, Lua de Papel, Golpe de Mestre, O Fantasma do Paraíso, A Conversação, Operação França, Amargo Pesadelo, Laranja Mecânica, Amargo Regresso, Nashville, Domingo Negro, Os Embalos de Sábado à Noite, Rede de Intrigas, Maratona da Morte, Shampoo, Um Estranho No Ninho, Alice Não Mora Mais Aqui, Todos os Homens do Presidente, O Expresso da Meia-Noite, Touro Indomável, dentre outros.
O público encarava os anti-heróis deste filmes, cujos finais eram na maior parte infelizes. Atores como Al Pacino, Jack Nicholson e Dustin Hoffman desafiavam os padrões de beleza vigentes. Os cineastas corriam riscos e nenhum tema ou tabu parecia ser sagrado. Clint Eastwood “limpava o lixo humano” em Perseguidor Implacável e outros filmes da série Dirty Harry. Um ciclo popular na década de 1970 foi o do cinema catástrofe: em filmes como Aeroporto, Terremoto, Inferno na Torre e O Destino de Poseidon milhares poderiam morrer em algum tipo de tragédia. Já o chamado cinema blaxploitation radiografava a vida nos guetos e dava poder aos negros no cinema. Padrões morais e sexuais eram desafiados em O Último Tango em Paris e Pretty Baby – Menina Bonita. Com Garganta Profunda, o cinema de sexo explícito finalmente saía dos guetos e chegava ao mainstream.
No meio disso, no meio de 1975, veio Tubarão. A produção se tornou a maior bilheteria do cinema norte-americano até aquele momento e inaugurou a era dos chamados “filmes de verão”. O diretor era o jovem Steven Spielberg, que já havia mostrado talento no telefilme Encurralado (1971) e no cult Louca Escapada. A produção, que mostrava um monstruoso tubarão branco aterrorizando uma cidade litorânea, não era um mero filme escapista de monstro. Com habilidade, Spielberg aplicava a fórmula hitchcockiana de suspense. E havia todo um subtexto político na trama, refletindo o estado de espírito norte-americano de dissipação pós-Watergate. Mesmo com todo o sucesso obtido na bilheteria e tendo se transformado um fenômeno da cultura pop, Tubarão, em termos de linguagem e apelo geral, ainda estava fincado nas neuroses e cacoetes dos anos 1970.
Muitos achavam que o fenômeno de Tubarão nunca se repetiria, mas o impacto do thriller foi primordial para a consagração de um amigo nerd de Spielberg chamado George Lucas. Ele não tinha as aspirações políticas e sociais dos colegas e despontou com Loucuras de Verão (1973), que radiografava com sensibilidade e humor a juventude os Estados Unidos no começo da década de 1960. Os astros eram Richard Dreyfuss e Ron Howard. Harrison Ford fazia uma ponta. Todos eles iriam partir para coisas maiores e melhores.
A viagem nostálgica de Loucuras de Verão já refletia o mutante estado de espírito dos Estados Unidos. Em 1976, o país comemorava o bicentenário. Aqueles que estavam cansados de tanta politicagem, pessimismo e dos desdobramentos do escândalo de Watergate começavam a voltar os olhos para a nostalgia, para valores mais simples e descomplicados. Lucas entendeu o recado. Ele não pretendia desconstruir nada, mas sim resgatar o cinema de pura diversão dos tempos das matinês das décadas de 1940 e 1950. Depois de uma safra de filmes complexos e cerebrais, o cineasta buscava aplausos e emoções instantâneas. Nada de cinismo ou anti-heróis repletos de ambiguidades morais. O mote era celebrar o triunfo do bem sobre o mal. Darth Vader, o vilão do filme que há anos ele tentava fazer, teria que se trajar de negro da cabeça aos pés para que ninguém tivesse dúvidas das intenções morais que Lucas que tenciona apresentar.
Star Wars (lançado originalmente como Guerra nas Estrelas, no Brasil, antes da padronização mundial) estreou nos Estados Unidos no dia 25 de maio de 1977. A Fox, o estúdio que distribuiu a produção, gastou uma boa quantia na promoção. Mas, no fim, o triunfo veio através do boca a boca. A ficção científica nunca foi um estilo que os críticos viam com bons olhos. Era considerado um gênero B, endereçado a crianças e adolescentes. Nos anos 1970, quando se buscava o ultra realismo e a realidade das ruas, o que menos se esperava era o renascimento do gênero. Mas quando “Star Wars Theme”, escrito por John Williams, talvez o tema de cinema mais conhecido de todos os tempos, aparecia como pano de fundo para o agora famoso texto “Há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante…”, a revolução estava armada.
Peter Travers, o critico de cinema da Rolling Stone EUA, lembrou no livro Rolling Stone – 70’s como foi aquele momento divisor de águas. Ele estava em início de carreira e ainda não era um profissional conhecido. Travers era apenas um adolescente cobrindo a cena para um jornal de bairro, ainda não era convidado para cabines de imprensa e pré-estreias. Uma das primeiras missões dele foi justamente escrever sobre Star Wars, e teve que entrar na fila e pagar para ver o filme, como todo mundo. Na porta no cinema, ele sentia o frisson: as pessoas mal podiam esperar para ver aquele filme “cool”. Enquanto isso, o futuro crítico, um jovem engajado, queria ver obras com conteúdo político e social, e não passar duas horas em companhia de monstrinhos e robôs.
Posteriormente, Travers lembrou: “Tirando o veterano Alec Guiness, que vivia o venerável Obi-Wan Kenobi, eu praticamente não conhecia ninguém do elenco. Quem era Mark Hamill? Um ninguém. E ele era Luke Skywalker, o herói do filme. E Harrison Ford? Era uma cara que ganhava a vida fazendo serviços de carpintaria em Hollywood. Carrie Fisher havia mostrado potencial em uma pequena aparição em Shampoo, mas ninguém, muito menos ela, poderia imaginar que se tornaria imortal ao reinar em Star Wars como a Princesa Leia”.
“A plateia respondia de acordo com o plano de Lucas: batia palmas na hora das batalhas, ria das piadas e permanecia em silêncio quando o filme ficava muito ‘sério’”. Aos poucos a resistência dele começou a ceder. “Lucas aprendeu direito: ele citava Rastros de Ódio, A Fortaleza Proibida, 2001: Uma Odisséia no Espaço, O Mágico de Oz e outros clássicos. Aplica a tudo conceitos de O Poder do Mito, de Joseph Campbell. Não era trabalho de um cínico, havia um deslumbramento. A cena da cantina, com todos os alienígenas celebrando, parecia saltar da tela. Como culpar a plateia por querer celebrar também com ele?”. O cineasta David Fincher desenvolvia um raciocínio semelhante ao de Travers: “Eu vi o filme quando tinha 14 anos e queria ser livre. Quem não gostaria de entrar na nave enferrujada do Han Solo e sumir pelo espaço? Era todo um novo mundo de possibilidades se abrindo”.
Ao firmar o cinema de fantasia dominado por efeitos especiais, Lucas e Spielberg foram chamados pelos colegas de “contrarrevolucionários”. Foram taxados de porta-vozes do cinema pipoca que antecipava o domínio das cadeias de cinema multiplex sem personalidade. Existia uma corrente de pensamento que dizia que filmes como Star Wars destruíram o senso crítico, a reflexão e as pretensões intelectuais existentes na comunidade cinematográfica. A influente crítica Pauline Kael relatou que a produção era “puritanismo cultural” e achava que Lucas e Spielberg estavam “infantilizado o cinema”. William Friedkin (O Exorcista) falou que Star Wars transformou o cinema em algo semelhante a uma franquia de fast food – imediato, uniforme e descartável. Já na visão de Paul Schrader, o filme devorava a alma de Hollywood – era uma banal história em quadrinhos de enorme orçamento travestida de cinema.
Mas tirando o resmungo de alguns, o fenômeno criado por Star Wars marcou terreno. Naturalmente, o sucesso da série de TV original Star Trek já dava provas de que os nerds existiam em enorme quantidade e que um dia iriam fazer diferença na sociedade, ditando gostos e modas. Star Wars consolidou o interesse pela tecnologia. Para toda uma geração que iria se ligar em videogame, internet, celulares, tablets e outros gadgets aquilo foi o marco zero. A grande massa agora queria lutas de guerra de laser, naves espaciais, robôs e criaturas de outros planetas. Se a vida era intolerável nas ruas, então era melhor ser feliz no hiperespaço.
É simplista demais afirmar que Lucas matou o cinema de autor. A criatividade e a energia da Nova Hollywood foram diluídas através de obras indulgentes e herméticas, sem conexão com o gosto popular. Os diretores, envoltos pela bajulação e poder, pensavam que eram deuses, acreditando que o público iria aceitar qualquer coisa que fizessem. Mas os ventos já sopravam para outros lados. Em 1979, Coppola lançou Apocalypse Now, uma distopia sobre o Vietnã que servia de epitáfio tanto para a insanidade chapada dos anos 1960 quanto para a brutalidade realista dos 1970. O diretor sobreviveu ao inferno que foi a filmagem do épico de guerra e o longa se tornou um clássico. Mas ele se enterrou de vez quando seu estúdio, o Zoetrope, lançou o malfadado Direto do Coração (1982), uma enorme decepção artística e comercial. Assim como Coppola, a maioria de cineastas que reinou nos anos 1970 não sobreviveu intacta à década seguinte.
Em 1980, o fracasso espetacular de O Portal do Paraíso, de Michael Cimino, já sinalizava que os estúdios não iriam mais aceitar filmes pretensiosos e investiriam massivamente em produções mais leves e direcionadas aos adolescentes. Todos os estúdios buscavam franquias como De Volta para o Futuro, que apesar de todos os méritos não tinha a densidade dos filmes feitos na década anterior. Com o tempo, saía a angústia de Travis Bickle, vivido por Robert DeNiro em Taxi Driver, e entrava a fanfarronice juvenil de Ferris Bueller, interpretado por Mathew Broderick em Curtindo a Vida Adoidado, dirigido por John Hughes, o homem que ditou as regras estéticas e comportamentais do cinema daquela década.
Naquele mesmo ano de 1980, Lucas e Spielberg se uniram para produzir os filmes da franquia Indiana Jones, começando com Os Caçadores da Arca Perdida. Os garotos de ouro dos revolucionários anos 1970 viravam o jogo. Spielberg seguiu como o maior magnata do cinema, posição que mantém até os dias de hoje. Já Lucas virou um milionário frustrado e alienado de seus pares, incapaz de se livrar da sombra de Star Wars. A saga original seguiu em alta com o lançamento de O Império Contra-Ataca (1980) e O Retorno de Jedi (1983). Depois de muitas idas e vindas, Lucas veio com as três prequel, que apesar de terem feito dinheiro, no geral desagradaram os fãs. Depois de uma enxurrada de críticas, Lucas finalmente desistiu de ficar à frente da franquia que havia se tornado maior do que ele.
Só que o destino decretava que Star Wars não tinha que morrer ou apenas virar tema de nostalgia para cinquentões. O bastão de laser foi passado para J.J. Abrams, um produtor e diretor sintonizado com tudo que acontece hoje. Abrams seria o único profissional capaz de imprimir uma narrativa contemporânea à criação Lucas, sem com isso perder a essência e a magia do original. Com este espírito, ele criou Star Wars: O Despertar da Força, lançado no final de 2015. Abrams cumpriu a missão com louvor. O longa se tornou um enorme sucesso, ganhando de cara o público e a crítica.
Em dezembro de 2016, Rogue One: Uma História Star Wars, uma prequel do primeiro filme, também se tornou fenômeno. Algumas semanas depois, morreu Carrie Fiscer, que, como a Princesa Leia da saga original, se tornou não apenas um ícone do cinema, mas também um símbolo de poder para muitas mulheres. A comoção em torno da morte dela só reforçou o quanto Star Wars ainda afeta a vidas pessoas. O próximo passo é esperar por Star Wars: Episódio VIII – Os Últimos Jedi, que estreia em dezembro. A saga continua.